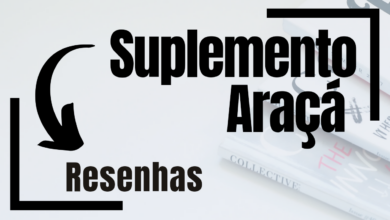Suplemento Araçá – Vol.02 – nº01 – Jan./2022 – Contos – “LINHA DE FRENTE” – Lívia Penedo Jacob
ISSN: 2764.3751
LINHA DE FRENTE
Lívia Penedo Jacob
- Assintomático.
‒ Ele tomou foi uma pisa de uns doidos fanáticos, mas tá bem.
Até hoje não me acostumei com certos termos que minha mulher usa. Clara falava pela videoconferência com sua mãe, a irmã e o cunhado, todos em Ananindeua.
Diabo de cidade abafada, a ponto de me agoniar ver aquela gente, mesmo à distância, as gotas de suor escorrendo pela tela, os sons enferrujados dos ventiladores. Será que calor transmite e contamina, como vírus?
Engraçado que àquela altura o sotaque de Clara me incomodasse tanto, quando foi isso que achei bonito nela, de princípio, tão condizente com seus cabelos retintos, escorridos pela cintura, a pele parda, os olhos castanhos…
‒ Você devia se chamar Jandaia.
‒ Égua! Jandaia é nome de pássaro. E tu, qual teu nome?
Nos conhecemos de maneira bem clichê, em pleno Carnaval carioca. “Amor de verão só dura uma estação”? Depende. Vai ver conseguimos driblar a má sorte quando não nos preocupamos demais com o dia seguinte. Entre idas e vindas, cinco anos se passaram até que eu me desse conta de estarmos ocupando a mesma casa: eu, ela e Chico, o gato paraense. E nem sequer posso dizer que o “casamento” tenha sido “motivado”. Do dia pra noite aconteceu.
‒ Não, Mãe, o Stanley não quer aparecer. Tu viste ele na televisão, foi? Em qual programa? Mas credo!
Durante toda a minha vida escolar fui o nerd da turma, quando ser nerd, aliás, tinha um quê de pejorativo. Vivi metade da vida com a cara enfiada nos livros e a outra metade discutindo política nos bares. Me cerquei de sociólogos, artistas, pessoas das humanidades. E meio a tanta “filosofia”, nem sei mais como aprendi que jandaia é um pássaro com três subespécies: a verdadeira, a de testa vermelha e a amarela. Só sei que das três variantes, nunca entendi bem a “verdadeira”. Devia ter a ver com as cores das penas – o amarelo no peito e um pronunciado verde nas asas, as cores da bandeira brasileira. As outras seriam “mentirosas” ou “falsas” porque menos “nacionalistas”?
‒ Tu sabes que aratinga é como os índios chamam essa ave? – Clara me surpreendia, sem fazer esforços.
‒ Sim. É o nome científico dela – respondi sem convicção, afinal se eu fosse uma ave emplumada talvez tivesse mais sorte com as fêmeas. Estava ruim de papo e minha interlocutora dominava a cena:
‒ Então, “tinga” significa “branco”, “ara” é “ave”. “Branco”, nesse caso, pode se referir ao amanhecer ou talvez às “águas limpas”, onde se banham as jandaias. Uma boa tradução seria: “a ave que anuncia a alvorada”.
‒ Branca, ou seja: Clara! Você se chama Jandaia mesmo.
Julgava ter acertado um alvo, quando estava sendo só mais um babaca. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
- Surto
A banda tinha passado há tempos, e esticamos num boteco, eu fingindo que gostava de cachaça barata, ela entornando garrafas de cerveja. Torcia pelo desatino: a garota tombando bêbada nos meus braços em algum motel do Largo do Machado. Pensamento espiralado que sumia e reaparecia em átomos, bombas atômicas de ideias necrosadas. Eu, um cretino que não bebeu quase nada de propósito. Canalha, e daí? Cheio de más intenções, mas quem nunca? Pena que ela se mantinha sobre-humanamente sóbria. Sóbria e inteligente, não me restando outra escolha senão mostrar também ser dono de um cérebro.
Tempos depois, nós dois já namorando, Clara disse, me achou “bem boçal”, modo como as pessoas lá na Amazônia chamam quem “adora uma pavulagem”, traduzindo: “um exibicionista metido a besta”. Nunca assumi pra ela a minha própria escrotidão. “Um lance babaca passageiro”, disse várias vezes pra mim mesmo porque, no íntimo, meu sonho era poder manter uma partícula ridícula do que um dia já fui, me conservar dentro daquele pequeno universo másculo de armaduras, um corpúsculo das mentiras que outrora me compuseram.
Depois que o dia raiou, vimos maracanãs gritando no alto das paineiras do Aterro do Flamengo, nós dois sentados à beira do meio-fio…
‒ É. Aqui no Rio de Janeiro nunca vi jandaia. Só o Maracanã, as maracanãs e você.
Por um segundo, esqueci que antes buscava nada além de uma trepa. Fantasias de Carnaval… Procurava a minha máscara, caída em alguma esquina. Antes pilantra, eu era agora um feliz abstêmio, fantasiado de bobo, um anti-rei Momo, vestido como o próprio, no sentido de portar cetro, coroa e faixa, mas sem a barriga característica daquele personagem bonachão. Pelo contrário, andava com a escassez exposta, minha magreza hereditária indisfarçável tão bem ressaltada, a compleição atlética de pele-osso à vista do povo.
Se eu era um bufão digno do Carnaval, Clara vinha sem maquiagem, nem brilho, nem traje típico ou adereços, flutuando por dentro de um vestido longo, todo branco, reciclado do Réveillon, as sandálias rasteiras, os cabelos compridos amarrados numa trança… “Deve estar homenageando Iemanjá, vestida de orixá”, pensei, até entender que ela estava nua, se endereçando a si mesma. Ignorar as fantasias dos outros é uma estrada pra liberdade, e era isso que ela fazia ao mostrar suas impenetráveis quimeras, se desnudando.
Bêbado, consegui vê-la completa, por debaixo daquelas roupas, a coxa, os seios, as nádegas, uma mulher iluminada no meio da multidão, visão epifânica. Enxerguei até manchas roxas sobre as pernas, umas que os antigos chamavam de “mágoa” e os livros de Medicina nomeiam “púrpura simples”. Era Clara, porém, quem me enredava com programas de índios, os bororos, os guaranis, os caiapós, os corubos, as lutas entre eles e os madeireiros, o governo a lhes dar flechadas. Sexo devia ser apenas um detalhe, dizia a mim mesmo, tentando me convencer, sem o consolos de terceiros.
‒Tens que me passar o número da Bia, tá, mãe? Vixe, olha a presepada! Com licença, minha gente, a conversa tá boa, mas já me vu.
Depois que saiu da videoconferência, Clara veio com uma bolsa de gelo na mão que posou desavisada sobre meu olho machucado. Deitado, eu tinha passado cinco minutos me revirando até achar a melhor posição pro notebook. Esquecido da vida e até de onde estava, senti um baita susto com aquele troço gelado pousando na minha cara e sem querer empurrei tudo com os braços: Clara, a bolsa de gelo, meu notebook…
‒ Égua, Stanley!
Aquela palavra, mais usada pelos nortistas do que vírgula, podia significar muitas coisas e dita daquele jeito, eu já tinha aprendido, era sinônimo de zanga.
Com a cara amarrada, Clara sumiu, indo se trancafiar no banheiro. Estropiado, levantei do leito pra repetir uma cena tão cafona quanto corriqueira nas telenovelas:
‒ Clara, escuta, foi sem querer. Abre, vamos conversar!
‒ Dá um tempo!
- Isolamento vertical/horizontal.
Era pra ter sido one-night-stand, mas acabou não sendo.
Nós dois sentados no meio-fio do parque, ao som dos berros das maritacas, ela me dizendo que tinha vindo ao Sudeste pra cursar um mestrado e eu ouvindo tudo atento, enquanto segurava o cu na mão, temeroso de que aparecesse algum sujeito armado. Cidade violenta, onde a morte nos espreita, ainda mais no Aterro do Flamengo, em plena madrugada. Ela, sendo do Norte, não devia saber, afinal, migrar da Amazônia pro Sudeste é uma forma de desterro. Mas Clara, dizia, vinha por amor às línguas, ia estudar as indígenas no Museu Nacional. Até que ela me beijou, e a terra se abriu e me engoliu, e acordei sonâmbulo num quarto de hotel. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa o barco correr.
Tão tarde. Tão cedo. Putas, virgens e Viagra, confesso: nunca experimentei! Estava, pela primeira vez da minha vida adulta, inseguro com sexo. Era o quê? Orgulho de macho ferido. Pavulagem? Tudo muito complexo, eu carregando o peso daquela imagem de mulher bonita flutuando dentro de um vestido que só existiu na minha cabeça, algo muito divino. Antes de tudo, fui ao banheiro, a bexiga cheia. Me olhando no espelho, vi que estava nu, sem fantasias, perdido nas minhas perplexidades. Cismei que na hora H ia broxar. Não broxei. E isso importa? Tenho autocrítica e reconheço minha mediocridade.
‒ Abre a porta, Clara.
Depois daquela foda mal dada, Clara se mandou. Saímos outra vez, quando fui eu que sumi, pra depois reaparecer. Num dia qualquer, nos reencontramos. Mas agora, eu estava pondo tudo a perder, sendo o mesmo escroto daqueles tempos, irritado por não conseguir continuar a minha leitura porque o sotaque paraense me atrapalhava.
‒ Escuta: eu já tinha colocado a bolsa de gelo no coágulo. O arroubo não tem nada a ver com você.
Mas tinha. Era desgastante lidar com o excesso de cuidados dela para comigo, o estranho orgulho da minha sogra por eu ter aparecido na televisão. Da noite pro dia, virei uma celebridade ao revés, o epítome da loucura em que se transformou o país. “Médico é agredido por familiares de paciente que rejeitam covid-19 como causa mortis. Profissional de trinta e dois anos passa bem”. Veicularam minha imagem sem autorização. Sentia raiva de mim mesmo, daquela fraqueza exposta nos hematomas, os receios transmitidos em telejornais. A morte porque solitária nunca é solidária, e isso talvez explicasse a revolta dos irmãos daquela paciente, a recusa em aceitar que o fim de tudo sempre está à nossa espreita.
‒ Amanhã volto ao hospital, bem cedo.
Clara abriu a porta e me abraçou, sem dizer palavra, me puxando, em seguida, pra dentro do banheiro, arrancando as roupas e se pondo logo nua. Transamos ali mesmo, em cima da privada, ela me cavalgando por cima, chegando os dois ao gozo muito rápido. Era a catarse de qualquer coisa que não fazia sentido, a síntese do nada ou o esvaziamento mútuo de nossos medos, mas que não deixava de ser bom.
Já no chuveiro, ela vinha mais relaxada ao fazer as sujeiras dos pensamentos descer ralo abaixo, sorrindo pouco pra uma boca acostumada a risos largos, os olhos apertados de descendente dos tapuias já sem verter lágrimas.
- O corpo e o anticorpo.
Eu dando banho na Clara era uma cena bonita, dessas que gostaria de ter podido olhar de fora. Seu cabelo agora estava mais curto que o meu, um corte moderno, tudo feito por ela mesma durante a quarentena. Não é que tenha ficado bom, mas também não ficou nenhum desastre. Afinal, uma nuca é uma nuca é uma nuca… é uma nuca!
Depois de cinco anos de pura “enrolação”, eu me via aboletado na casa da Clara, sem que nunca tenha pensado em me casar com ela, ainda mais naquelas circunstâncias. Do dia pra a noite, me vi tateando as escuridões daquela mulher, tentando caber no seu apartamento sala-e-quarto, onde não havia espaço pros meus discos, meus livros e minhas excentricidades.
Na minha vez de ir pra debaixo da ducha, Clara se adiantou a falar, se secando do lado de fora. Como uma motosserra, descambou a vomitar suas agruras amazônicas, os indígenas morrendo mais do que todos com a pandemia, o fim dos povos, das línguas, dos seus amigos… ela recém-doutora e desempregada, o que ia fazer dali pra frente?
‒ Minha mãe andou com depressão. Agora tá medicada – Clara falou, me olhando do lado de fora, já seca e vestida.
‒ O que Dona Ruth tem feito pra se distrair durante a quarentena? – Perguntei.
‒ Nada. Parece que passa todo o dia em frente à televisão assistindo àquele programa mundo-cão, o Linha de Frente.
‒ Impossível ficar bem vendo aquilo.
‒ Foram eles que noticiaram o que te aconteceu.
- Imunidade de rebanho.
No dia seguinte, acordei tarde de propósito porque tinha que chegar no hospital ao fim do segundo turno. Almocei um turbilhão de clichês enquanto assistia a televisão: o novo normal… é preciso se reinventar… a crise… vamos achatar a curva… porque os médicos que estão na linha de frente… a natureza tá retomando o seu espaço… fica em casa… a máscara salva… vai passar…
Me despedi de Clara e, quando fechei a porta, ainda a vi sentada no sofá, o gato no colo, as pernas cheias de nódoas, as tais “manchas púrpuras”. Sim, ela sofria com aquela estranha condição, tal como imaginei da primeira vez que nos vimos: marcas secretas subindo pelo corpo, tão bem coberto pelo vestido longo branco a lhe tapar as carnes. Eu devia ser um bom médico, do tipo intuitivo, ou aquilo era premonição, a única que tive por toda a existência.
De forma neurótica, higienizei todo o painel de controle do elevador com álcool em gel, e ainda na garagem, liguei o rádio do carro tentando esquecer que a vida já não era mais uma via de mão-dupla. Funcionou: o pop, o rap e o hip-hop me dirigiram por dez minutos.
Mas, à certa altura, o noticiário enterrou minha leveza: “estamos entregues aos abutres”. O comentarista noticiava a negação da pandemia por parte do presidente, seus apoiadores protestando em Brasília pela volta da ditadura. No meio da confusão, jornalistas foram espancados, dizia o radialista, levando-me a me olhar no espelho e constatar que em torno dos meus olhos restavam apenas algumas manchas marrons, leves. O roxo evaporara.
O sinal verde me acordou com suas subsequentes buzinas. Nada de música. O locutor continuava, como quem narra um jogo de futebol: “perdemos mais enfermeiros mortos pelo SARS-Cov-2 do que Espanha e Itália juntas”, relatando, em seguida, o sofrimento nas comunidades periféricas, as pessoas proibidas de sair depois das sete da noite pelo próprio tráfico sob pena de morte.
“O Brasil não é pra amadores…” ainda o ouvi dizer, antes de desligar o aparelho e estacionar, já no hospital. Mas tão logo pus os pés ali, me deparei com um cenário de guerra, os corredores substituídos pela sombra da morte, pessoas doentes, apinhadas, algumas falecidas.
‒ Já não temos espaço no necrotério.
Suei dentro da roupa de astronauta como se estivesse sob o clima equatorial de Ananindeua, o ar-condicionado quebrado. Foi quando me ocorreu que eu, o SUS e a Constituição havíamos nascido em 1988, e ainda esperávamos pela Democracia, deitados eternamente em leitos nada esplendidos. Leitos, aliás, faltosos, em salas que precisavam ser esfriadas com urgência.
O conserto veio.
Com ele, o barulho insuportável do ar-condicionado, os monitores cardíacos, as bombas de vácuo, as ligações telefônicas, o burburinho desconcertado das pessoas, os respiradores. Enfim, os respiradores.
- Saturação.
Os livros de Medicina não ensinam que doença pode ter partido. Isso é coisa que os médicos precisam aprender na universidade da vida. Convidado a falar no mesmo programa que expôs meu nome, imagem e idade, o Presidente da República mostrava-se mais letal do que o corona:
‒ Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos liderando o número de infectados no mundo.
‒ E daí?
O vírus não tinha partido, andava desfiliado, passando de mão em mão e de boca em boca. Sem rosto, cara, cu, ele não defeca. É só um filete de RNA, que se reproduz à permanência e à impermanência, trocando, por vezes, a ordem das palavras, dos códigos, pra recrudescer, infectando mais e mais corpos, ceifando centenas, milhares, milhões.
E daí?
Pirataria. Holding. Trusting. Ford. Foda. Nunca na história do país, elegemos um estadista que tão bem nos representasse, o sangue nos olhos esbravejando preconceitos. O homem eleito alegorizava todas as nossas feridas expostas, nossas bocas espumando contra nós, pretos, índios, putas e pobres. A gente se odeia.
E daí?
Afetado e envolvido, nunca desejei tanto pode tirar a roupa, ficar de novo nu de fantasias como quando estive pela primeira vez com Clara, todos os desejos em suspenso. Quem sabe eu pudesse, enfim, voltar a dormir sem remédios, sonhar sonhos tranquilos de estar dentro da mata, fumando ervas proibidas, inalando novos ares.
‒ A enfermeira tirou todos os equipamentos de segurança, teve um surto de ansiedade e foi embora pra casa. Não estamos mais aguentando passar oito horas sem beber água nem fazer xixi, apenas porque não dá pra desperdiçar máscaras, toucas, avental.
Lembrei da voz da apresentadora na TV. Vai passar.
- Vacina
Após uma semana desde o meu retorno, o hospital se entrincheirava na lotação máxima, o caos se anunciando em um paciente atípico. Nuno, 74 anos, estava há menos de 48 horas na UTI, onde chegou com febre alta, anosmia, insuficiência respiratória, cansaço. “Suspeita de covid-19”, dizia o prontuário. Mas tudo levava a crer que os sintomas eram psicossomáticos, algo até então inédito. Pelo menos pra mim. Quando cheguei, o paciente estava acordado, olhos serenos. Comecei uma entrevista clínica padrão, procedimento de praxe, na expectativa de encerrar o diagnóstico e mandá-lo logo pra casa:
‒ Além de omeprazol e hidralazina, faz uso constante de alguma outra substância?
‒ Sabes que dia é hoje? – Ele perguntou e respondeu ao mesmo tempo, ignorando meu questionário – Aniversário da Revolução dos Cravos, 25 de abril.
Não era. Já há muito tínhamos passado do mês de abril, mas nada falei a respeito, imaginando que, pela idade, talvez ele estivesse senil. Logo percebi que era um lusitano, pelo sotaque.
‒ Sou de Trás-os-Montes, duma aldeia que não achas no mapa.
Aquela conversa sem pé nem cabeça confirmava as suspeitas: o homem delirava. E seus devaneios faziam minha mãe falar dentro de minha cabeça, ela que há tantos meses eu não visitava porque privado de ver meus próprios parentes, a fim de poupá-los dos riscos de contaminação: hematoma comum a todos os profissionais da saúde.
Insisti com o Nuno, que continuava sem responder sobre as medicações. Compartilhou trechos esparsos de sua biografia, a participação na Revolução dos Cravos, a posterior vinda ao Brasil, logo vista com desconfiança pelos militares daqui porque, afinal, um “tuga” devia estar a planejar algo de mau.
‒ Prenderam-me por equívoco, isto asseguro, pois ia a um sítio onde estava um tal Francisco, cuja procedência eu desconhecia. És português? Eles logo suspeitaram quando descobriram que antes fui militar, era no ano de 1976. Tomamos eletrochoques. Encontraram minha mulher com quem eu trabalhava, aqui éramos apenas tradutores. Queriam nomes. Mais choques. Hoje olho adiante e vejo a sombra de tudo que matamos, a gente a pedir a volta dos anos de chumbo. Escreve: as máscaras são vossas novas mordaças. Sabes quem ganhou o prêmio Camões este ano? Pois o tal Francisco que procuravam era o Buarque de Holanda.
Foi quando me lembrei de Clara, a gente se conhecendo num bloco de Carnaval comandado por uma banda feminina, Mulheres de Chico, um estranho chamado Francisco, que também era autor premiado e, sem saber, havia determinado a vida de um imigrante português. Não, bobagem. Tudo aquilo não passava de ladainha, história de pescador, coisa de velho caduco.
A conclusão óbvia era uma só: aquele homem jamais contraiu o vírus. Nada tendo nada a fazer com um indivíduo acometido de delírio ou histeria, registrei minhas impressões no prontuário, dando-lhe alta hospitalar. Não sou psiquiatra, e se algum colega implicasse com o diagnóstico, pouco me importava. Liberamos o respirador pra uma gestante em idade materna avançada, fizemos o que deveríamos.
Após aquele breve momento lúdico, o dia voltou às turbulências. Um paciente, revoltado com o diagnóstico de coronavírus, retirou o acesso venoso e a máscara de isolamento. Gritaria, sangue escorrendo pra todos os lados. Um colega me informando que as gavetas já estavam vazias de remédios, que não havia profissionais para os hospitais de campanha, construídos às pressas pelo governo, mas por lá deveriam ter insumos. “O ar-condicionado voltou a enguiçar”, alguém gritou, anunciando a pane total do meu sistema neurológico.
Apaguei e caí. Permaneci semi-inconsciente até a manhã subsequente, quando acordei, em casa, com dois olhos imensos me observando. Era o gato.
Velho Chico, para quem eu nunca existi, pela primeira vez me surpreendeu afável:
– Rrrrrrrrrrrrrrr
O telefone celular, vibrando sobre a cômoda, trouxe a voz de um colega do hospital, preocupado com o estado dos meus nervos. Perguntei sobre Nuno.
– Quem?
– O português. Deixei tudo escrito no prontuário.
– Stanley – ele respondeu – sei que foi difícil. Tá sendo pra todo mundo. Mas não tínhamos escolha. Acabaram os respiradores. Salvar vidas envolve sacrifícios. O velho capotou, mas a gestante que pusemos no respirador tá bem, o bebê foi salvo. A cesárea foi um sucesso.
Enfim, entendia que o devaneio havia sido meu, quadro de covid-19 paranoide, a negação de minha própria realidade e de tudo que me vinha acontecendo. Cambaleante, fui caminhando até a sala, onde Clara, lânguida, esparramada no sofá, o laptop sobre o colo, fingia ver TV. Chico veio atrás, roubando a atenção da dona: recebi um mero “bom dia”, ao contrário de meu rival a quem ela encheu de beijos e carinhos.
Olhando minha mulher refestelada, senti outra vez uma epifania, tal qual aquela que tive no dia em que nos conhecemos, e a imaginei grávida, os seios cheios de leite, nós três no bloco de Carnaval que aconteceria no próximo ano ou no ano seguinte ao próximo. Lembrei, de súbito, a música que a banda tocava quando vi Clara pela primeira vez. “Uma ofegante epidemia, que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval. Vai passar”.
Senti duas lágrimas transbordarem dos meus olhos, lágrimas quentes como o ar que evapora das terras amazônicas todos os dias, após as chuvas da tarde. Qualquer coisa dentro de mim nublava e eu estava prestes a precipitar fazia tempo.
_________________________________________
Lívia Penedo Jacob é Doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ) e mestra em Estudos da Linguagem (PUC-Rio).
_________________________________________
Contatos:
E-mail: suplementoaraca@gmail.com
Instagram: @revistaentrepoetas
Envie seu texto para publicação gratuita.